Antes de ler, saiba que…
Esse texto foi publicado originalmente na Revista Sentido, em 2017, um mês depois de voltarmos de uma viagem de 8 meses pela Europa, Oceania e Ásia. De lá para cá, claro, muita coisa mudou.
Além da pandemia, a situação política nos países mencionados no texto também é outra. No Mianmar, por exemplo, os militares controlam novamente o governo e as viagens para o país já não são mais recomendadas.
Nosso relato se refere exclusivamente às nossas experiências e ao contexto dos anos de 2016 e 2017.
A noite anterior tinha sido cansativa, mas melhor do que esperávamos. Foram dez horas em um ônibus que serpenteava por estradas esburacadas, com direito ainda a uma hora de parada na madrugada para trocar um pneu furado. Sentados nas últimas poltronas, dormíamos e acordávamos, vendo a vida lá fora passar de relance.
Uma luz acesa numa casa de madeira, uma plantação na escuridão quase total, e, um tanto surreal, um grupo de jovens monges budistas rindo e conversando ao redor de uma fogueira à beira da estrada. Será que era um sonho?
Agora, sob o sol do meio-dia, estávamos despertos, o cansaço esquecido, felizes por termos chegado bem e percebido de cara que estávamos em meio a um dos povos mais receptivos que conheceríamos em oito meses de viagem.
Na nossa moto pequena, tipo scooter, passeávamos por ruas secundárias de terra e areia quase sem encontrar ninguém, indo de um templo antiquíssimo a outro. Estávamos finalmente em Bagan, no Mianmar, uma planície árida que abriga um complexo arqueológico com mais de três mil templos budistas que datam do século 11 ao século 13.
Exalando contentamento, agradecíamos pelo privilégio de estarmos ali, de estarmos naquela jornada.

Jornada que, aliás, tinha começado a ser preparada quatro anos antes, quando decidimos que tiraríamos um ano das nossas vidas para explorar o mundo. Nós sempre tivemos um pouco de dificuldade em explicar o porquê dessa decisão, mas acho que fomos simplesmente movidos por uma curiosidade nata e pela influência de familiares que sempre contavam histórias de viagens.
Guardamos dinheiro e planejamos a vida e o trabalho em torno desse objetivo, mas a alta do dólar e várias despesas inesperadas fizeram com que a gente encurtasse um pouquinho esse período sabático, que passou a ter oito meses em vez de um ano.
Ainda assim, sabemos bem o quão privilegiados somos por poder ter embarcado. Não vamos dizer aqui que você deve largar tudo para conhecer o mundo, nem que viajar é essencial para uma vida plena. Não é. Mas é sim uma daquelas experiências que nos surpreende, que nos faz rir, chorar, passar raiva, sentir medo e alívio, às vezes tudo em um mesmo dia.

Já faz um mês que desembarcamos no Brasil, depois de passarmos por 18 países; e a sensação boa de chegar ao Mianmar agora é só uma lembrança. Voltamos outros, sem dúvida, embora seja difícil precisar exatamente o que mudou. Até por isso foi preciso dar um tempo para digerir tudo que vivenciamos antes de começar a escrever, porque não achamos que vivemos uma única mudança grandiosa.
Foram as coisas menores que nos transformaram; foram os detalhes do que encontramos pelo caminho que nos trouxeram vários pequenos, mas importantes, aprendizados. E é sobre eles que vamos falar.
A diversidade cultural e a nossa insignificância
Nada reforçou mais a nossa sensação de insignificância diante do mundo do que estar em meio às constantes multidões da China, nossa primeira parada na Ásia.
Até então, nunca havíamos tido muita noção do que números como “1 bilhão de habitantes” querem realmente dizer. E nem o quanto variações culturais e linguísticas seriam tão incrivelmente intensas mesmo numa era globalizada como a nossa.
Foi a China que finalmente nos mostrou tudo isso e reforçou o quanto é equivocado acharmos, como indivíduos e como representantes de outra cultura, que somos o centro ou o padrão para qualquer coisa.

Chegamos em Pequim num feriado, no começo da manhã de um dia nublado e chuvoso. Por sorte, tínhamos conseguido uma carona de cortesia do aeroporto até o hostel onde nos hospedamos. Seguimos por uma rodovia moderna, trânsito relativamente tranquilo naquele dia de feriado, quase nos sentindo no Brasil. As placas de sinalização em mandarim e a grossa camada de poluição no horizonte nos lembravam que estávamos bem longe de casa.
Nos hospedamos no meio de um hutong, como são chamados os bairros centenários da capital chinesa, com suas ruazinhas estreitas e construções tradicionais. Bem diferentes dos prédios ultramodernos que surgem o tempo todo na cidade, demarcando o contraste entre a Pequim moderna e a Pequim imperial.
O dia nublado para nós normalmente significaria uma desvantagem, mas nos hutongs o frio e o céu cinza tinham um efeito contrário: pareciam deixá-los ainda mais aconchegantes.
As lanternas de rua acesas, a luz amarela emanando das lojas, os cheiros das comidas (ora apetitosas, como os pratos de macarrão e os bolinhos recheados de baunilha; ora esquisitas, como os espetinhos fritos de animais que não conseguíamos identificar), os letreiros em mandarim e eventualmente em inglês, as bandeiras chinesas penduradas em várias casas, os banheiros de rua coletivos, usados pelos moradores do bairro, tudo parecia contribuir para uma atmosfera intrigante e convidativa.

Claro que, como quase todas as experiências na China, essa estava longe de ser exclusiva. Era compartilhada por nós e por mais uma multidão de chineses e de uns tantos estrangeiros, que como nós tentavam se achar em meio às comidas diferentes, às dificuldades de comunicação e aos costumes estranhos aos nossos.
Ao longo de um mês no país de Mao Tsé- Tung, fomos seguidamente ao céu e ao inferno, ora passando por experiências sublimes, ora sendo confrontados novamente com os contrastes culturais e a sensação de estarmos prestes a sumir no emaranhado de gente.
Tivemos momentos de tranquilidade na magnífica Muralha da China, que por um período foi só nossa, mas muitas vezes depois também levamos empurrões e cotoveladas e aprendemos o que é de verdade disputa por espaço.

Visitamos museus e complexos arqueológicos e só então percebemos o quão pouco aprendemos na escola sobre esse país de história milenar, que influenciou tantos outros. Fugimos de taxistas e motoristas de riquixá como o diabo foge da cruz, sempre alertas contra os golpes mais comuns contra turistas. Como quando você fecha uma corrida por 50 yuans e, no fim, o motorista diz que você tinha entendido errado, eram 500 yuans…
E também vimos a face solidária dos chineses que, mesmo sem conseguir falar inglês, nos auxiliavam antes que precisássemos pedir ajuda.
A China nos ensinou que lidar com a diversidade cultural é mais complexo do que parece, e que de fato sabemos muito menos sobre essa diversidade do que gostaríamos de admitir. Mostrou o quanto vivemos em um universo restrito, embora gostemos de pensar o contrário. E nos fez apreciar a expressão que diz que somos um grão de areia no meio do oceano, porque ela nunca fez mais sentido (também nos fez apreciar bolinhos fritos recheados de tofu, mas isso é outra história).
Lidar com o medo é preciso

Começamos a ficar preocupados quando vimos todos da tripulação colocando o colete salva-vidas. Esses caras nunca usam o colete salva-vidas na Tailândia. Enfrentar o mar de peito aberto, por mais tempestuoso que esteja o dia, parece ser questão de honra para os barqueiros tailandeses.
Mas ali estávamos, prestes a encarar uma hora de barco para sair da ilha de Ko Lipe, com a tripulação inteirinha se equipando. Sobre nós, nuvens escuras faziam questão de nos lembrar que o mundo já estava desabando em água em alguns cantos do país.
Precisávamos sair da ilha e não tínhamos muita alternativa, então embarcamos mesmo assim. Sem querer ignorar os sinais dos céus (e da tripulação), colocamos nossos coletes. Todos os gringos ao nosso redor pareciam bem mais relaxados, conversando, dando risada e sem nem se preocupar com a localização do colete salva-vidas mais próximo. Quando o barco começou a sair, pensamos que talvez não seria tão ruim assim. Mar baixinho, navegada suave. Rá! Ledo engano.

Bastou sairmos da área mais próxima à ilha para o pesadelo começar. Por sorte estávamos numa lancha fechada, e não em um dos típicos barcos de madeira tailandeses. Sentados na cabine, a gente arriscou umas olhadelas pela janela para espiar o tamanho das ondas, mas eram tão grandes para nós que achamos melhor permanecer na bênção da ignorância.
O barqueiro acelerava, o que diversas vezes nos ajudava a sentir menos o balanço das ondas, mas por outro lado também significava que levantaríamos voo, já que a lancha usava as ondas como rampa, ficava vários segundos suspensa no ar e caía novamente, com força, na água.
Os passageiros seguravam a respiração e em seguida gritavam, como se estivéssemos numa montanha-russa, cada vez que o barco parava, suspenso, e caía na sequência. Pior ainda era quando as ondas vinham pela lateral, erguendo a lancha por um dos lados e nos fazendo rezar para que não virasse de ponta cabeça. Começou a correria pelos coletes, o choro das crianças, a distribuição de saquinhos para vômito, a busca frenética por um remédio antienjoo na mochila.
Numa tentativa de nos acalmarmos, começou para nós também uma reflexão. Por que estamos com medo? Pode ser que isso seja normal, não somos experientes em viagens de barco. E, se não for, o pior que pode acontecer em qualquer circunstância é morrermos. Temos medo de morrer? Pô, que pergunta é essa, né? Mas tá, é sério. Claro que não queremos morrer agora, mas acreditamos que a vida continua, e o que vivemos até aqui já foi lindo. “Calma, respira, não precisa ter medo.” Isso virou um mantra que ajudou a esquecer a tormenta lá fora.
Depois de uma hora que pareceu interminável, o mar acalmou, o barco começou a desacelerar e, por fim, chegamos em terra firme. Enjoados, com os corpos doendo de termos que nos segurar firmes para não sairmos voando, e prometendo nunca mais andarmos de barco. Promessa, aliás, que foi prontamente descumprida quando descobrimos que precisaríamos usá-lo novamente para chegar a ilhas promissoras nas Filipinas.

Ao longo da viagem, em vários momentos tivemos que lidar com medos diferentes. Medo pela nossa integridade física, como dessa vez, e medos subjetivos – do fracasso, do inesperado, de termos feito uma escolha errada ao deixar tanta coisa de lado para viajar e até da sensação que teríamos ao voltar para casa.
Muitas vezes não tínhamos tempo para tentar racionalizar esses medos, nem outra escolha a não ser enfrentá-los (acredite, a gente até tentou fugir de alguns deles). E embora esse não seja um aprendizado que se tenha exclusivamente em uma viagem – é assim na vida, afinal- , essa jornada nos expôs a graus e tipos variados de medo num ritmo muito mais intenso do que havíamos vivido até então, e nos ensinou a lidar com eles.
A humanidade não está perdida

Mãe e filho em um dos templos de Bagan, no Mianmar; ela nos contou que não pôde estudar, mas que o filho, sim, irá à escola
Sabe aquela impressão de que o ser humano não tem jeito, de que fracassamos como humanidade, de que o meteoro já está atrasado? Então, era essa nossa sensação antes de começarmos a viajar.
E ainda durante a viagem muitas vezes fomos confrontados com situações de tanta pobreza, desigualdade, descaso ambiental, sistemas políticos ditatoriais, tentativas de golpes, etc., que às vezes parecia mesmo que era melhor o mundo apertar o reset e recomeçar sem a gente. Mais cedo ou mais tarde, porém, acabávamos conhecendo pessoas e projetos que nos faziam enterrar nosso pessimismo e restaurar a fé.
Por toda a Ásia, por exemplo, você encontra iniciativas voltadas para ações ambientais ou para melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos animais. Como a do jovem birmanês que convenceu comerciantes do Mianmar a liberarem crianças e adolescentes do trabalho para que voltassem a estudar. E não fazendo com que eles fossem até a escola, correndo grande risco de evasão, mas levando a escola até as crianças usando dois ônibus velhos que transformou em salas de aula.
Ou como os voluntários do Elephant Nature Park, na Tailândia, que resgatam e dão um novo lar a elefantes que sofrem maus tratos ou são usados em atividades como circo e transporte de turistas ou de madeira.
Aliás, fica a dica: aquele passeio em cima do elefante NÃO é legal. Em muitos casos, caçadores perseguem na selva os elefantes ainda filhotes, matam os pais, que são extremamente protetores, e levam os bichos para serem treinados desde cedo, na maioria das vezes de maneira cruel.

O Elephant Nature Park vem justamente tentando mudar essa cultura. Lá o visitante se integra à rotina natural dos animais, e não o contrário. É possível dar comida aos elefantes resgatados e ajudar a dar banho neles no rio, o que é uma experiência absolutamente recompensadora. E o mais legal é que o trabalho da organização tem atraído cada vez mais voluntários e visitantes, inspirando outros lugares na Tailândia a mudarem suas práticas.
E inúmeras vezes nós vimos a solidariedade e a empatia em pequenas atitudes de pessoas anônimas que, de alguma forma, nos ajudaram ou ajudaram outros.
Como o francês Eric, dono de uma simpatia incrível e também de uma pousada em Luang Prabang, no Laos. Ele ajudou um jovem laociano a se livrar de um trabalho que era pura exploração, contratou-o por um salário decente e possibilitou que o rapaz se formasse na faculdade e adquirisse sua autonomia.
Ou a senhora que era caixa do mercado em que fomos fazer compras umas quatro vezes seguidas, em Moscou, que não falava uma palavra de inglês, mas se dispunha a usar o tradutor do nosso celular para nos ajudar a descobrir o que era aquela fruta estranha que estávamos comprando.
Ou os adolescentes andando de skate e bike em São Petersburgo, que nos socorreram quando estávamos perdidos e, também sem falar inglês, emprestaram o telefone para que pudéssemos ligar para a nossa anfitriã na cidade. Teve ainda a chinesa que nos fez dar risada ao enxotar os motoristas de van e táxi que ficavam nos atormentando em um ponto de ônibus perto da Grande Muralha.

Às vezes a gente dava de cara com um ser iluminado que resolvia que iria salvar o nosso dia. Bem no começo da viagem, estávamos em Paris e pegamos o trem para ir ao aeroporto e pegar um voo para a Rússia. É claro que, no meio do caminho, o trem simplesmente parou e não dava sinais de que iria sair do lugar por um bom tempo.
Não entendíamos nada do que estava sendo anunciado no sistema de som e não tínhamos um chip de celular local para poder acessar a internet e descobrir onde estávamos. De repente, todos os passageiros começaram a descer do trem.
Perguntamos então para um rapaz ao nosso lado o que estava acontecendo. Ele disse que havia um problema nos trilhos e que o trem ia demorar pelo menos 40 minutos para voltar a funcionar. E, mais animador ainda, disse que estávamos no meio do nada.
Como Murphy é rei, obviamente tínhamos comprado a passagem com uma companhia dessas low cost que só não cobram pelo ar que você respira, quem dirá quanto cobrariam então por uma remarcação.
Pois esse homem abençoado, que se tornou um amigo, também trabalhava no aeroporto e decidiu nos ajudar. Pediu um carro do Uber para nós três, convenceu o motorista, que já carregava outro passageiro, a lotar o carro e levar todos nós, nos esperou no balcão de check-in, foi mostrando seu crachá enquanto corria conosco pelo aeroporto, agilizando nossa passagem pela área de segurança, e só sossegou quando estávamos entregues sãos e salvos no nosso portão. Merci beaucoup, Baudouin!
Poderíamos escrever um livro sobre os vários casos que nos fizeram ver um novo sentido para a presença humana na Terra. Mas enquanto você não recebe sua cópia de “100 histórias para mostrar que é possível restaurar a fé no ser humano”, confie na gente: a humanidade (ainda) não está perdida.
Desenvolvendo a empatia e eliminando as fronteiras

Eram 4h30 da manhã e as ruas de Siem Reap, no Camboja, estavam escuras e ainda tranquilas. Fomos caminhando até o hostel onde estava nossa amiga Olga, uma russa-israelense (sim, essa combinação existe) que iria passar o dia conosco. A meta era acompanhar o nascer do sol no templo principal da região, o Angkor Wat, construído no começo do século XII e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
De longe ouvimos o ruído do nosso motorista chegando, pilotando um dos inconfundíveis, barulhentos e desconfortáveis tuk-tuk asiáticos. Resumidamente, um tuk-tuk é uma moto puxando uma cabine para transportar passageiros.
Àquela altura da viagem nós tínhamos desenvolvido uma certa aversão a motoristas de tuk-tuk. De maneira geral, nos incomodávamos com a abordagem insistente deles nas ruas. Quando enfim decidíamos fazer alguma viagem, nos deparávamos com motoristas que queriam cobrar preços inflacionados, que se recusavam a fazer corridas curtas ou que tentavam ir parando em zilhões de lojinhas das quais receberiam alguma comissão caso comprássemos algo.
Em Siem Reap, estávamos dispostos a conhecer os templos pedalando, já que o aluguel de motos na cidade é proibido, mas as estradas eram muito perigosas para sairmos de bicicleta ainda de madrugada.
Foi a Olga quem achou o contato do nosso motorista, o Adam, na internet. Ele foi bem recomendado em uma avaliação que alguém fez num site de viagens, e quando entramos em contato já combinamos um preço fixo para o passeio todo. Quando ele chegou, naquela madrugada, seguimos sonolentos para o templo. Quietos e surpresos com o vento frio que nos gelava até os ossos, já que durante o dia fazia um calor intenso.
Não sabíamos ainda que Adam derrubaria todos os pré-julgamentos que já tínhamos sobre motoristas de tuk-tuk até então, e que nos ensinaria muito mais sobre o Camboja do que qualquer guia que tivéssemos lido.
Ao descermos no Angkor Wat, o rapaz franzino, de pele morena e cabelos escuros mostrou que tinha um senso de humor afiado, e que seria não só nosso motorista, mas também nosso guia informal. Enquanto a grande maioria dos motoristas de tuk-tuk ficou no estacionamento, Adam caminhou conosco até o templo, repassando para a gente tudo que tinha aprendido por conta própria, lendo livros e prestando atenção em outros guias.

Foi com o Adam que aprendemos mais sobre a transição do hinduísmo para o budismo no Camboja, sobre diferentes aspectos de cada religião e sobre o que os detalhes da estrutura do templo representavam. E quando ele disse que explicava aquilo tudo do lado de fora do templo porque não podia entrar lá dentro com a gente, descobrimos que só guias oficiais podem entrar. E que para se tornar guia no Camboja, segundo ele, é preciso fazer cursos específicos e investir cerca de U$ 4 mil pela licença – valor surreal para quem cobra de U$ 15 a U$ 20 por um circuito de dia inteiro pelos templos e faz um extra graças às gorjetas dos turistas.
Ao longo daquele dia e de outros durante a semana, fomos com Adam para cima e para baixo, entrando juntos em templos menores e ficando incomodados com o fato dele não poder entrar conosco nos maiores, mais fiscalizados. Com o calor por vezes nos deixando sonolentos, sentávamos com ele debaixo de uma árvore ou na frente de um templo, e conversávamos sobre a vida no Camboja.
Sobre como mais de 15 pessoas da sua família foram mortas durante o genocídio promovido pelo regime de Pol Pot na década de 1970. Sobre como seus avós foram obrigados a viver em campos de trabalho forçado. Sobre como muitos cambojanos apreciavam uma porção de aranhas fritas ou uma sopa de morcego (“hmmmmm, que delícia!”, comentou ele ao ver um morcego dentro do templo) porque, afinal, quando se passa por um período de fome tão intensa como o país passou nos anos 70, se aprende a comer qualquer coisa.
Sobre como ele tinha enfrentado a família para se casar com uma mulher mais pobre, e agora vivia com a esposa, quatro filhos e outras 12 pessoas numa mesma casa. Sobre como, fora de temporada, sem os turistas para transportar, tinha sorte se achasse um trabalho na construção civil ganhando U$ 10 por um dia inteiro, em um país onde o dólar é a moeda corrente e os preços não são tão modestos assim. E nos divertíamos ouvindo ele exclamar: “Oh, my Buda!!”, sua variação do “Oh, meu Deus!!”, em inglês.

Adam deu rosto e voz a dramas históricos com os quais só tínhamos tido contato nos livros ou museus locais. E deu contexto às vidas de inúmeros motoristas de tuk-tuk, que até então nos causavam mais estranhamento do que simpatia. Ao longo do caminho, os encontros com os vários Adams mundo afora, com suas diferentes profissões, histórias e personalidades, nos fizeram ser mais tolerantes, mais empáticos, menos propensos a pré-julgamentos.
Hoje, quando vemos no jornal uma notícia envolvendo algum outro país, lembramos dos Adams, e de repente parece que aquela notícia é sobre algo que aconteceu aqui na esquina de casa, com um amigo ou um vizinho. Com os Adams aprendemos a estranhar as fronteiras, geográficas e culturais, porque no fundo estamos todos unidos pela nossa humanidade; pelas nossas dores, alegrias e angústias.
Você não precisa viajar – mas, se for, vai se surpreender

Ao contrário do que lemos muito por aí durante nossas pesquisas antes de partir, não achamos que ninguém necessariamente “deve” viajar, muito menos largar tudo para fazer isso por um período prolongado, como se não houvesse outra forma de viver e ser feliz; como se viajar fosse uma necessidade.
Em um mundo em que a maioria das pessoas precisa se preocupar em como pagar as contas mais básicas, viajar infelizmente ainda é um privilégio. E, mesmo que você possa usufruir desse privilégio, ainda assim deve ser uma escolha, não uma obrigação, não importa o que digam alguns blogueiros e famosos do Instagram por aí.
Para nós, viajar por um período longo era um sonho e se tornou uma escolha, possibilitada pelo dinheiro que economizamos e pela nossa profissão, que nos permitiu ficar esse tempo fora. Demandou planejamento e anos de poupança e, sim, valeu muito a pena. Se você pode e quer viajar, seja por um tempo, seja nas férias, vá sem medo.
Seja…
- Acampando aos pés de uma montanha na Nova Zelândia;
- Passeando pela loucura organizada de Tóquio;
- Provando o caro e delicioso fondue de queijo na Suíça;
- Procurando sua própria ilha deserta no mar azul das Filipinas;
- Vendo o sol nascer no Angkor Wat;
- Comendo aquele Pad Thai inesquecível na Tailândia;
- Sobrevivendo a uma viagem de treze horas de trem na China;
- Refazendo os passos de “Comer, Rezar, Amar”, em Bali;
- Tomando um banho de cachoeira gelado na Chapada dos Veadeiros;
- Indo passar o dia naquela cidade charmosa perto da sua casa…
Não importa: uma viagem sempre vai te surpreender. Porque o mundo, amigos, é maravilhoso.





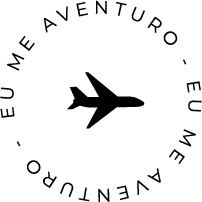
Que texto incrível.. Estou criando coragem para fazer meu primeiro mochilão, e as experiências vividas por vocês e compartilhadas neste texto só fizeram eu ter mais vontade ainda de conhecer tudo isso! Parabéns pela perspectiva linda de vida de vocês!
Que legal, Letícia! Vale muito a pena! É algo que a gente leva pra vida toda e sempre lembra com carinho, apesar dos perrengues hehe Depois volta aqui pra contar se você foi e como está sendo sua experiência =)